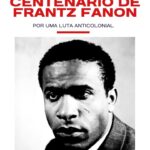
Crises, desigualdades e os movimentos sociais – Parte II

Mauri Cruz (*)
Desde Marx, as crises econômicas e sociais são conhecidas pelo comportamento cíclico do capitalismo. Elas decorrem do processo de acumulação do capital que, concentrando riqueza nas mãos de poucos, gera recessão, estagnação e enorme desigualdade social. A saída para estas crises tem sido a inovação tecnológica. Os recursos acumulados são injetados novamente na economia através das revoluções tecnológicas. Essas revoluções extinguem profissões, empregos e reorganizam o mundo do trabalho. E, por sua vez, geram novo ciclo de expansão e de acumulação, até que outra crise se instale. Neste sentido, estamos no ápice de um ciclo de acumulação capitalista denominado de neoliberalismo onde 1% da humanidade detém mais de 50% de toda a riqueza do planeta. Esta riqueza não está nas mãos de uma família ou de grupos de proprietários individuais. Ela é “controlada” por grandes conglomerados compostos por empresas, oligopólios, fundos privados, ações nas bolsas através de uma complexa rede de interesses deste pequeno grupo de seres humanos. Este modelo cobra um preço elevado de vidas e do meio ambiente e o sistema capitalista, mais uma vez, está próximo a um colapso. Mas como sempre, o capitalismo tenta se reinventar.
A luta anticapitalista teve por muito tempo como mote principal a criação de um estado classista e socialista que deveria organizar a economia a partir dos interesses da maioria da população sem, no entanto, alterar fundamentalmente os modos de produção. Este governo teria uma relação direta com a estrutura de organização da economia, onde os sujeitos do mundo do trabalho seriam os principais sujeitos da política. Este é o modelo cubano e tem todos os méritos que conhecemos, organizando uma sociedade razoavelmente igualitária, apesar do bloqueio econômico imposto pela maior potência econômica e militar do planeta.
Após a Revolução da Nicarágua, em 1979, nasceu um outro modelo onde a democracia foi compreendida como um valor estratégico. Essa compreensão permitiu que, mesmo depois das revoluções socialistas, houvesse a convivência com parcela dos setores capitalistas pequenos e médios. Da mesma forma, permitiu a manutenção da dinâmica de representação política que incluía eleições gerais e representativas nos moldes que ocorrem nas sociedades capitalistas. Este modelo, que demonstrou seus limites na própria experiência nicaraguense, embalou projetos de governos democráticos e populares em quase todos os países da América Latina, muitos com grande sucesso, e colocaram os partidos e movimentos de esquerdas da região com os dois pés na institucionalidade. Mas ainda aqui, era a classe trabalhadora o centro da lógica de organização do poder.
É importante anotar que, em qualquer uma destas vertentes, as questões ambientais e identitária eram tratadas como transversais e secundárias. Da mesma forma que os demais direitos sociais que, somente com a mudança da lógica econômica, poderiam se ajustar ao longo do processo em que as transformações econômicas e sociais se consolidassem.
Estes modelos, por certo, não dão conta da complexidade da realidade atual. O mundo do trabalho – ou do não trabalho – está em profunda e radical transformação. A tecnologia antes construía máquinas e equipamentos para aumentar a produtividade dos seres humanos nos processos produtivos e, assim, aumentar a acumulação de riquezas dos detentores dos meios de produção. Hoje, a tecnologia substitui os seres humanos como mão de obra intensiva e estes são tratados como “peça descartáveis”. Por outro lado, esta mesma tecnologia literalmente transfere para a palma da mão de quem tem acesso ao conhecimento e aos recursos boa parte dos processos produtivos. Este novo modo de “produzir” passa a ilusão de que cada pessoa pode ser seu próprio patrão ou que pode gerar sua renda sem patrão. A ideia do empreendedorismo flerta com este conceito. Só que, por detrás desta ilusão, está uma nova dinâmica de acumulação com base numa enorme quantidade de trabalho não remunerado.
No sistema financeiro, este fenômeno é muito concreto. Praticamente não há mais interação entre as empresas financeiras e seus clientes. Quando alguém necessita de algum serviço ele é direcionado pela central de atendimento a uma inteligência artificial que numa lógica de pergunta e resposta leva o cliente ao atendimento de sua necessidade.
Isso significa dizer que a premissa da organização de uma nova sociedade a partir exclusivamente da identidade de classe não dá conta dos desafios. Essa identidade que era construída a partir das experiências concretas dos trabalhadores e trabalhadoras no chamado chão das fábricas está em acelerada extinção. Isso não quer dizer que o mundo do trabalho deixou de existir ou de ser estratégico. Claro que não. Sem produção não há consumo, não há sociedade, não há economia. Além disto, como em todas as transformações o velho convive com o novo e as vezes até com o arcaico, como vemos no crescimento de situações de escravidão em várias partes do mundo. No entanto, as exceções confirmam as regras. Em regra, há uma mudança profunda nos processos e meios de produção que impactam diretamente no centro da estratégia da principal utopia anticapitalista que era a identidade de classe.
Por outro lado, o atual estágio do capitalismo expôs outras contradições. Uma delas é a questão socioambiental. Esta questão sempre foi tratada com receios porque, em tese, poderia ser resolvida pelo capitalismo sem mudar sua lógica de acumulação e, portanto, de desigualdades. No entanto, isso nunca foi real e o atual estágio do sistema capitalista é incompatível com o meio ambiente porque põe em risco a preservação da vida no planeta. Este sentimento é planetário e mobiliza movimentos sociais, ambientalistas, humanistas e até parcela da classe produtiva na defesa do Planeta. Isso significa dizer que há, para além da identidade de classe, uma “identidade de humanidade” que pode e deve ser compreendida como um ponto de unidade fundamental para organizar o pensamento anticapitalista.
Soma-se a esse fenômeno outra contradição gerada pela elevação do grau de conhecimento por uma ampla parcela dos excluídos. A antes classe alienada foi transformada num exército de pessoas que tem fácil acesso a todo tipo de informações pelos meios de comunicação e pelas redes sociais. Isso quer dizer que aquela classe social que ignorava sua realidade de dominação e precisava ser despertada, agora sente-se informada e constrói suas próprias opiniões sobre a realidade. Estes setores, não raro, estão mobilizados por conta de uma narrativa diferente daquele que acreditamos. São mais imediatistas e não aceitam qualquer forma de representação. Como as redes sociais funcionam numa lógica de bolhas sociais, cada segmento somente dialoga com suas verdades que são alimentadas pelos próprios grupos e se reforçam cada vez mais. Essa polarização nega o outro, o contraditório, o diferente. Mas é inequívoco que, mesmo nos movimentos de centro e de direita, há uma ideia latente de participação, de mobilização, de pressão. Não por outro motivo, desde 2013 vimos a direita tomar as ruas no Brasil e temos assistido todo tipo de mobilizações e movimentos autônomos pelo mundo.
Estas mudanças têm tido impactos profundos noutra contradição que é a democrática. Há uma frustração planetária com os atuais modelos de governos e de representações partidárias. É inegável uma profunda crítica aos partidos políticos e sua dinâmica de organização e de exercício do poder. Esta critica atinge a todas as instituições, inclusive aquelas representativas de classe e as organizações da sociedade civil que reproduzem estruturas hierárquicas e centralizadoras.
Frente a estes dilemas e contradições o que devemos fazer?
A primeira e mais importante atitude é buscar conhecer a realidade antes de interpretá-la. É preciso um processo de leitura crítica dos novos fenômenos econômicos e sociais para permitir que eles sejam interpretados a partir do que realmente são. Por exemplo, segundo Marcio Pochmann [1], na época da criação do Partidos dos Trabalhadores, as maiores categorias de trabalhadores/as no Brasil eram os/as metalúrgicos/as, os/as bancários/as e os/as professores/as. Justamente os setores que produziram as principais lideranças no período pós ditadura militar. Hoje, ainda segundo Pochmann, as principais categorias são dos setores de serviços, destacando-se os funcionários de shoppings e de call centers. Da mesma forma, o mundo agrário era composto por pequenos agricultores familiares que não tinham acesso a financiamento e nem tecnologia. Hoje, o agronegócio é representado por uma elite rural com pesados investimentos e tecnologia. O que isso muda no pensamento e na lógica da classe?
Outra mudança estrutural que já falamos acima que são as redes sociais. Segundo a pesquisadora Elis Radmann [2], do Instituto de Pesquisa de Opinião (IPO), o capitalismo sempre se difundiu pelo individualismo. Mas, até o surgimento das redes sociais este “individualismo” era praticado em relação aos grupos sociais. Atualmente cada pessoa tem sua própria time line, gera seus próprios conteúdos e se relaciona com o mundo a partir de sua própria “redoma” o que ela denomina de individuação. Antes, os trabalhadores para serem e se sentirem sujeitos sociais precisavam se organizar e atuar de forma coletiva. Hoje, há condições reais de cada um/a representar-se diretamente perante a sociedade, sem mediações. O que isso muda no conceito de organização política?
Soma-se a estas situações geradas pelas mudanças econômicas e sociais outro dilema referente aos povos tradicionais. Se partimos da premissa que não há um novo bom versus um velho ruim. Que só há o bom e o ruim, independente de serem novos ou velhos. Então, na construção de um outro mundo possível, onde colocar as questões referente a cosmovisão indígena, africana e feminista que entendem que todas as dimensões da vida estão interconectadas e depositam no sentido de coletividade a base ética das relações entre os seres humanos e destes com a natureza?
Estas são questões que precisam ser enfrentadas. Sem que se tenha uma mínima ideia utópica de como pode ser o novo mundo possível, teremos muita dificuldade de pensar os caminhos para a transição econômica e ambiental, para a transição social e, consequentemente, para a transição democrática.
(Esta reflexão segue na parte III)
(*) Advogado socioambiental, especialista em direitos humanos, professor de direito à cidade e mobilidade urbana, membro da Diretoria Executiva do Instituto IDhES, da Diretoria Executiva da Abong e do Conselho Diretor do CAMP.












Publicar comentário